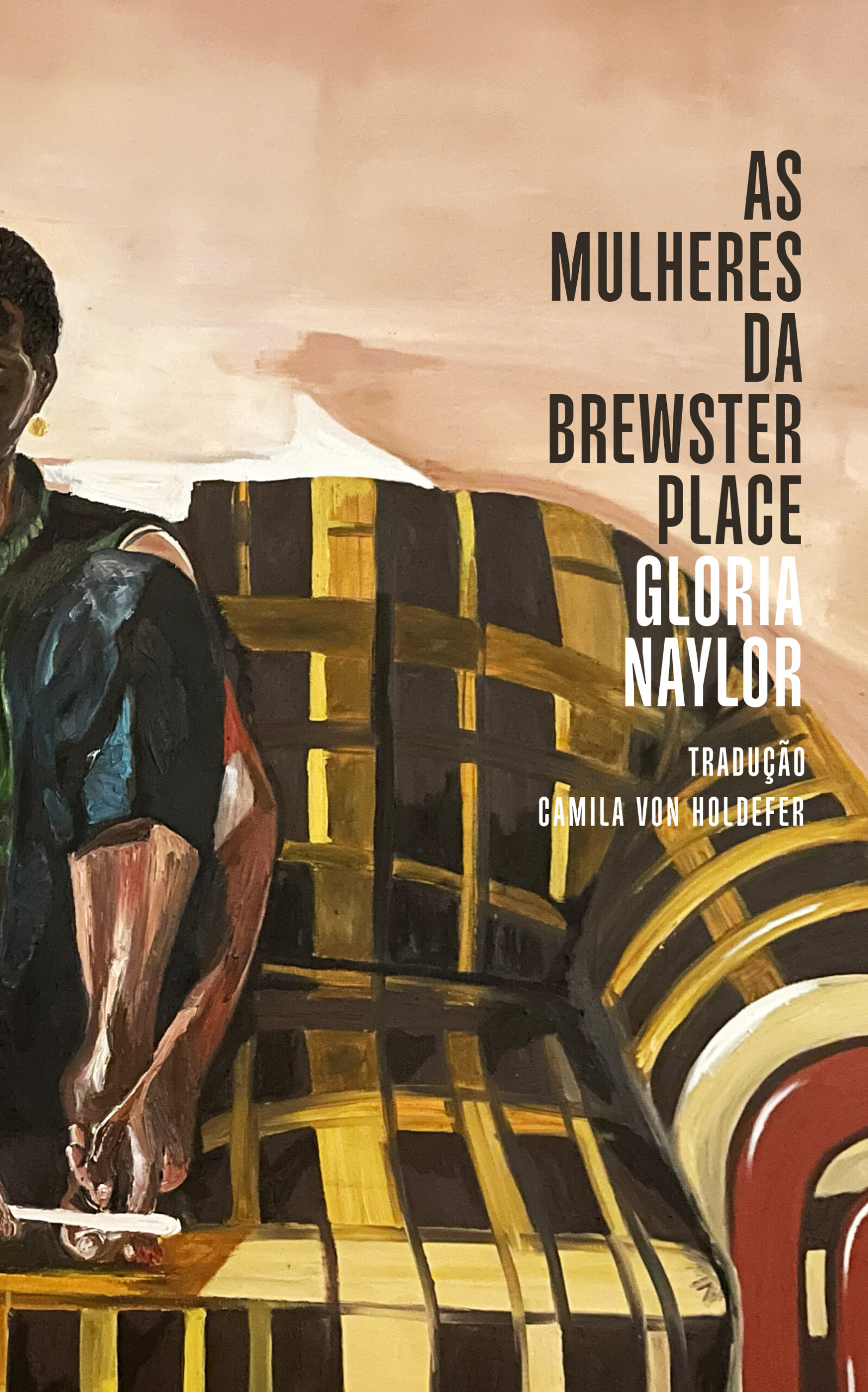Um endereço como sentença e expansão
Por Luciana Araujo Marques
21 de março de 2024
Como se anuncia desde o título, em As mulheres da Brewster Place (Carambaia, trad. Camila Von Holdefer), da nova-iorquina Gloria Naylor (1950-2016), elas é quem são as protagonistas. Não é à toa, contudo, que certo gesto masculino (de conquista seguida de abandono, quando não de ameaça e violência extrema) seja fundante do espaço marginalizado onde vivem e recorrente em outros planos da vida de cada uma delas. Logo na abertura desse romance publicado em 1982 nos Estados Unidos, o endereço que o nomeia é convertido em um sujeito feminino que não cabe no retrato da família tradicional: “A Brewster Place era a filha bastarda de diversas reuniões clandestinas entre o vereador do sexto distrito e o diretor da Imobiliária Única”.
A vizinhança do conjunto habitacional de onde emergem as histórias de Mattie Michael, Etta Mae Johnson, Kiswana Browne, Lucielia Louise Turner, Cora Lee, Lorraine e Thereza não era formada desde o princípio por gente pobre e negra como elas. Idealizadas a partir de um jogo de interesses de poderosos que, depois de terem conseguido o que queriam, lhes deram as costas, essas moradias populares foram originalmente ocupadas por imigrantes europeus, em uma sucessão étnica de irlandeses e mediterrâneos, famílias de jovens que serviram na Primeira Guerra Mundial e nunca voltaram.
Se para esses primeiros residentes da Brewster Place aquele teto representava um recomeço, para os que vieram depois, em sua maioria negros migrados do sul rural dos Estados Unidos e seus descendentes, quando o lugar já não servia como barganha político-financeira, era beco sem saída – literalmente representado pelo muro construído ao final da rua. Fim de partida, até serem arrancados dali de maneira definitiva por ordens judiciais e notificações de despejo. Quem conseguia escapar do endereço como sentença era exceção (a ascensão social é rara), embora, na trama, a relação homem-mulher seja sempre fracassada e por isso as figuras masculinas deem sempre um jeito de dali escapulir (somem, tornam-se ausentes, o que não significa que tenham ido para lugar melhor). Quando não ausentes, os homens são destrutivos ou meras “sombras”, mesmo que fecundas, tais os amantes de Cora Lee, “que vinham à noite e lhe mostravam a coisa que dava uma sensação boa no escuro, e quase sempre saíam antes de as crianças acordarem, o que era bem melhor — não havia mais espera pela caixa de leite que nunca chegava e olhos roxos por conta do choro de um bebê. A coisa que dava uma sensação boa no escuro às vezes trazia novos bebês, e aquilo era tudo o que lhe dizia respeito, já que as sombras quase sempre mentiam a respeito do sobrenome ou do emprego ou a respeito de não terem esposas”.
Nesse sentido, é exemplar a história de Mattie, que, ao engravidar solteira, deixa a fazenda onde vivia no Tennessee rumo à cidade depois de levar do pai uma surra só interrompida por um tiro disparado pela mãe em defesa da filha. Ela então decide devotar sua vida ao filho Basil. Mimado, ele não apenas a destrata depois de ser preso como desaparece sem dar explicação.
Já Theresa e Lorraine, à primeira vista fora do alcance dos homens por viverem uma relação lésbica, incomodam não só os homens como a maioria das outras mulheres da Brewster Place. Por outro lado, provocam um dos diálogos mais comoventes sobre o amor:
“Mas amei algumas mulheres mais intensamente do que já amei qualquer homem”,
Mattie ponderava. “E teve algumas mulheres que me amaram mais e fizeram mais
por mim do que qualquer homem.”
“É.” Etta pensou por um instante. “Consigo concordar com isso, mas ainda assim é
diferente, Mattie. Não consigo precisar exatamente, mas…”
“Talvez não seja tão diferente”, Mattie disse, quase para si mesma. “Talvez seja
por isso que algumas mulheres ficam tão incomodadas com isso, porque lá no
fundo elas sabem que não é tão diferente, no fim das contas.”
É nesse território compartilhado sob o inominável que lhes ronda que as singularidades vêm à tona por meio de episódios que localizam essas existências no interior de uma história maior: a afro-americana, que guarda contatos com a afro-brasileira e sua ascendência escravizada. Kiswana Browne, filha da classe média, opta por viver ali para estar junto de seu povo. Escolarizada e politizada, encarna o desejo de instaurar essa consciência na comunidade. Gloria Naylor explora sempre os limites desse tipo de ação ou salto reflexivo sem jamais deixar cair por terra as sementes, seu potencial de expansão de horizontes. Como quando Kiswana convida uma das famílias para assistir a uma peça em um parque, e a criança pergunta para a mãe se Shakespeare é preto: “‘Ainda não’, ela disse com delicadeza, lembrando que havia batido nele por escrever as rimas nas paredes do banheiro”.
Primor de escrita que fez com que Harold Bloom o incluísse em seu polêmico O cânone ocidental, que, segundo ele, tinha como parâmetro valores estritamente estéticos, As mulheres da Brewster Place é um retrato em que as mazelas sociais e afetivas nunca se dissociam nem suplantam a solidariedade, a força da amizade, o gozo, pura pulsão de vida em meio a uma comunidade atravessada por instabilidade financeira, discriminação racial, homofobia, agressão física, homofobia, estupro e morte prematura. “Mulher, cê ainda tá na cama? Não sabe que dia é hoje? A gente tem uma festa”, este é um chamado que irrompe já no finalzinho do livro, ecoando, a partir do passado tão presente dessa obra que levou mais de quarenta anos para ser publicada no Brasil, a provocação da escritora Juliana Borges: “Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário”.
Luciana Araujo Marques é escritora, crítica literária e editora.