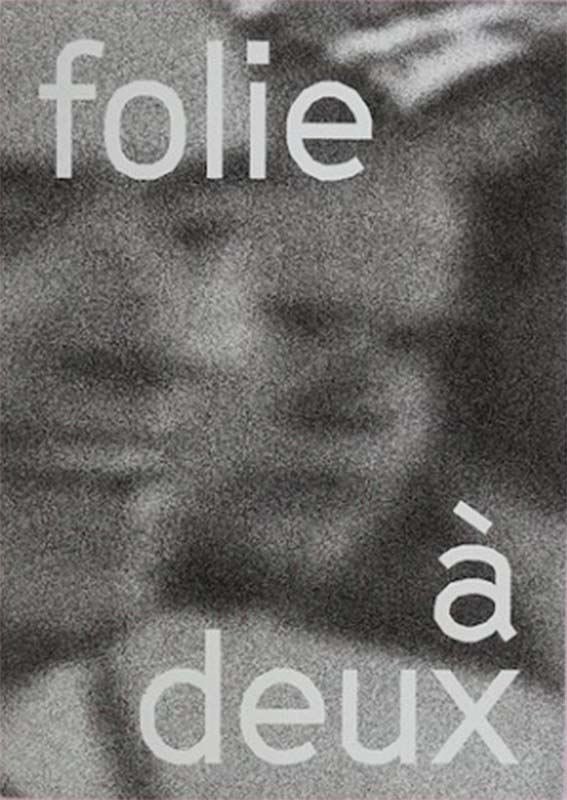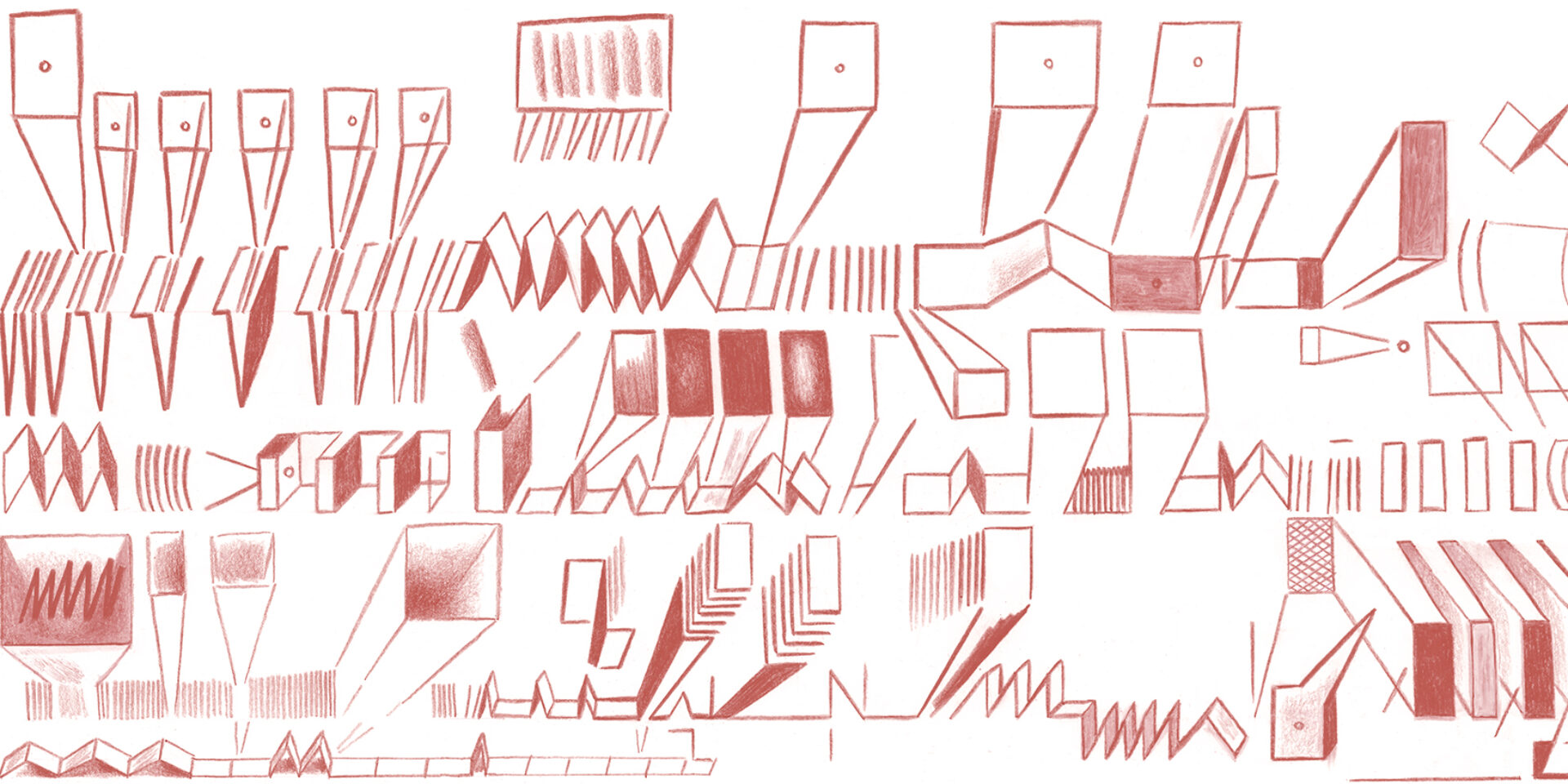
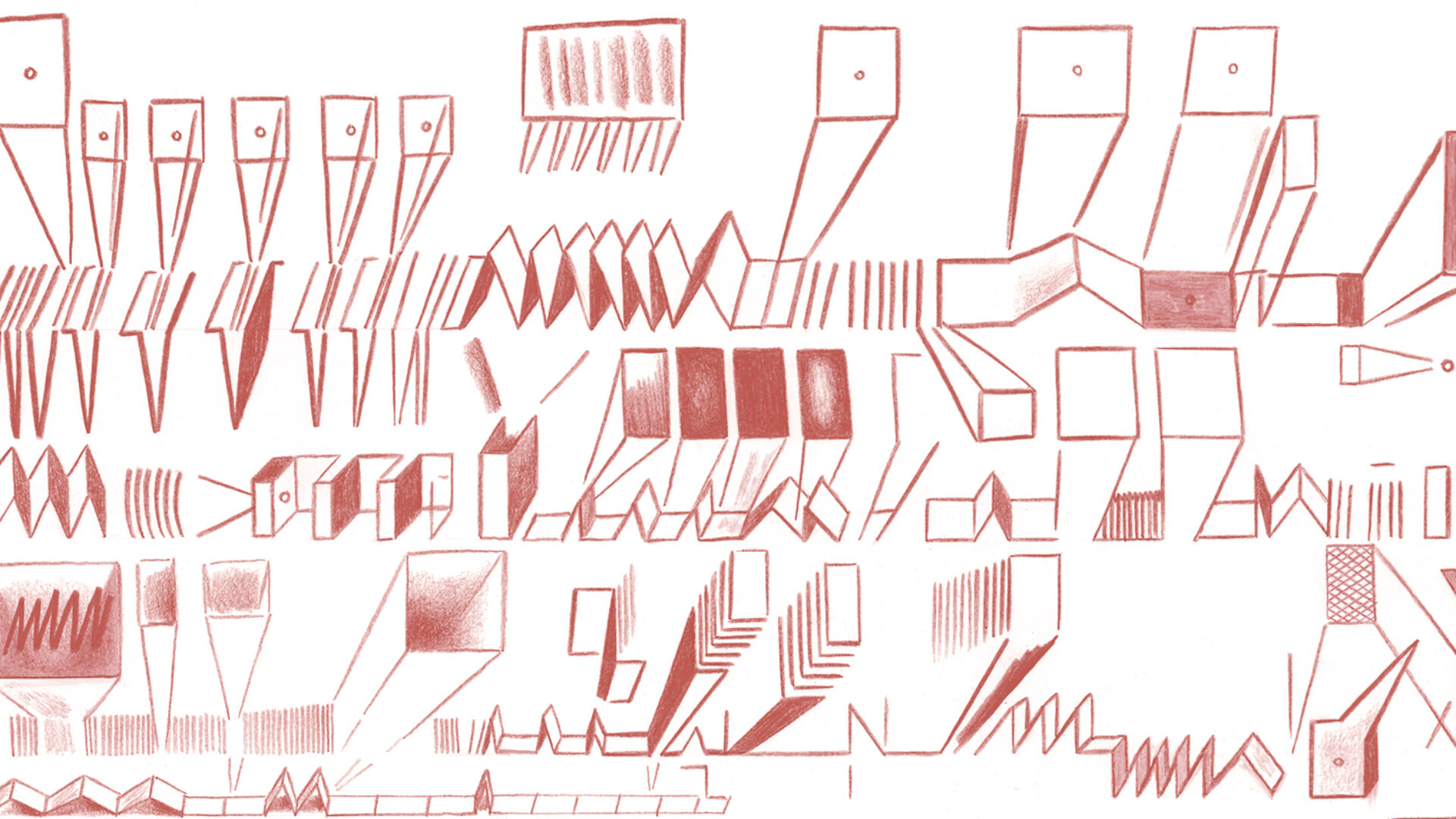
© Andrés Sandoval
Fotolivros, true crime e a desconfiança da memória
Por Miguel Del Castillo
2 de novembro de 2021
O que tanto nos atrai nas histórias de crimes, sobretudo os “espetaculares”, os não resolvidos ou mal julgados? O que explica o sucesso de séries e podcasts de true crime, ou “crimes reais”, como Making a Murderer e Serial, e todos os que vieram na esteira desses? A onda parece ter chegado também ao universo dos fotolivros, e há pelo menos três trabalhos muito interessantes que exploram esse assunto.
Mas antes de mais nada, e já que esta é a coluna inaugural, convém anotar algo a respeito desse termo. Resumidamente, entende-se hoje um fotolivro como um livro de fotografia que não é um catálogo ou um compilado de imagens, mas uma publicação pensada para desenvolver uma trama, numa sequência com sentido, por mais diverso que seja, e por mais que não haja uma “história” de fato ali. São livros que precisam ser lidos do começo ao fim, e não apenas zapeados. É desse tipo de livro – que teve seu boom no Brasil por volta do começo dos anos 2010 – que me ocuparei nesta coluna.
*
Começo com um brasileiro, que inclusive subverte a ideia de true crime: Folie à deux (2019), do fotógrafo e editor Felipe Abreu. O livro apresenta uma série de imagens de locais inóspitos, todas com uma aura de mistério, com a luz baixa e sombras em profusão; são pedaços de prédios, escadarias, um parque ou uma floresta, onde por vezes se veem pequenos objetos que parecem vestígios de algo. Essas fotos se alternam com outras em preto e branco que poderiam ter sido retiradas de arquivos de jornais impressos ou televisivos. Em meio a essa sequência, surgem fragmentos textuais que sobem o tom policialesco, e soam ora como relatos burocráticos de um crime, ora como investigação jornalística, ora como falas diretas dos envolvidos.
Sabe-se pela sinopse que são abordados seis crimes reais ou imaginários, mas poderia muito bem ser apenas um, pois não há grandes explicações no livro. É uma obra atmosférica por essência, e Abreu é bem-sucedido ao nos conduzir por esse labirinto de imagens e palavras, deixando-nos em estado permanente de atenção, buscando pistas e associações, olhando mais a fundo as fotos, revendo a sequência com receio de termos perdido algo, pensando se reconhecemos esses lugares genéricos, se aquela parede de tijolos no final é a mesma do início, ou a mesma que vimos na tevê, numa reportagem sobre um crime, ou a mesma de nosso prédio. Ao final, um breve e belo conto de Antônio Xerxenesky aprofunda ainda mais essa sensação: “pensei que talvez fosse contagioso aquele sentimento”, ele escreve, “e que todos nós andamos com a certeza de nossa culpa”.


Sobre culpa real ou atribuída, e sobre memórias autênticas ou construídas trata também Sugar Paper Theories (2016), fotolivro do galês Jack Latham. O autor investiga dois casos de desaparecimento em Reykjavik, em 1974, que povoaram o imaginário e as manchetes dos jornais islandeses nos anos que se seguiram. Embora os corpos não tenham sido encontrados, um grupo de jovens suspeitos foi preso; todos confessaram, porém nenhum deles conseguiu lembrar o que de fato aconteceu nas noites dos crimes.
Latham fotografou lugares e pessoas citados nos relatos, entrevistou suspeitos, denunciantes, teóricos da conspiração, testemunhas e especialistas, além de ter compilado arquivos originais da investigação policial – tudo isso com o intuito de demonstrar que o tempo passado nas mãos do sistema de justiça criminal (foram centenas de dias) pode ter deteriorado a conexão entre as memórias dos acusados e a experiência vivida. Há também um texto de apoio de um ex-policial e psicólogo forense, cuja “teoria da síndrome de desconfiança da memória” ajudou a libertar, tempos depois, dois dos acusados.
O volumoso livro lembra uma investigação à la jornalismo literário, só que através de imagens, apesar de o autor insistir que sua abordagem do caso é “amadora”. Numa entrevista, Latham afirmou: “A beleza de uma fotografia é que ela apresenta o fato e a ficção em medidas iguais” – o que também pode se aplicar à memória, como seu livro atesta.
*
Redheaded Peckerwood (2011), do norte-americano Christian Patterson, completa a tríade. Por cinco anos, o artista mergulhou na história de um casal de jovens que, no inverno de 1958, em Nebraska, assassinou cerca de dez pessoas. A suas fotografias, Patterson também acrescenta documentos, cartazes e mapas.
Como nos outros dois livros, ainda que algumas fotos se destaquem, é o conjunto delas que nos puxa para dentro, a partir da carta de confissão exibida no início. Aqui, de novo, a fotografia é evidência e ilusão, e a história é tratada como presente.
Chama a atenção também o tempo gasto nesses projetos, tanto por Patterson quanto por Latham; foram anos convivendo com essas histórias, o que me leva de volta à pergunta inicial: o que tanto nos atrai no true crime?
*
Sufjan Stevens tem uma música que me fascina, “John Wayne Gacy, Jr.”, talvez a mais tristemente bonita já feita sobre um serial killer – o Gacy do título, que torturou, estuprou e matou ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978, em Chicago. A canção começa falando sobre o pai alcoólatra, a mãe que chorava na cama, os vizinhos que adoravam John Wayne por sua simpatia, e então passa aos crimes, às vítimas enterradas sob o assoalho de sua casa, num tom de lamento que Stevens evoca muito bem ao explorar a alternância entre sua voz normal e o falsete. A última estrofe surpreende: “And in my best behavior/ I am really just like him/ Look beneath the floorboards/ For the secrets I have hid” [E mesmo quando me comporto muito bem/ Sou, na verdade, exatamente como ele/ Procure embaixo do assoalho/ Os segredos que escondi].
Sobre John Wayne e esses versos, o músico disse numa entrevista: “Em todos os romances policiais e recortes de jornal que li, havia uma obsessão deliberada por encontrar a fonte de sua perversão. […] Tenho pouco interesse em causa e efeito quando se trata da iniquidade humana. Acredito que todos nós temos a capacidade de matar. Somos criaturas implacáveis. Senti uma empatia incontornável, não em relação a seu comportamento, mas a sua natureza, e não havia mais como não confessar isso, por mais terrível que soasse”.
A enorme capacidade que temos para o amor, temos também para a morte. Será que vem daí nossa atração por histórias como essas?

Miguel Del Castillo é escritor, tradutor, editor e curador, autor de Restinga (2015) e Cancún (2019, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura). Foi editor da Cosac Naify e do site da revista ZUM. É curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. De novembro de 2021 a novembro de 2022, resenhou livros de fotografia para o site da Megafauna.